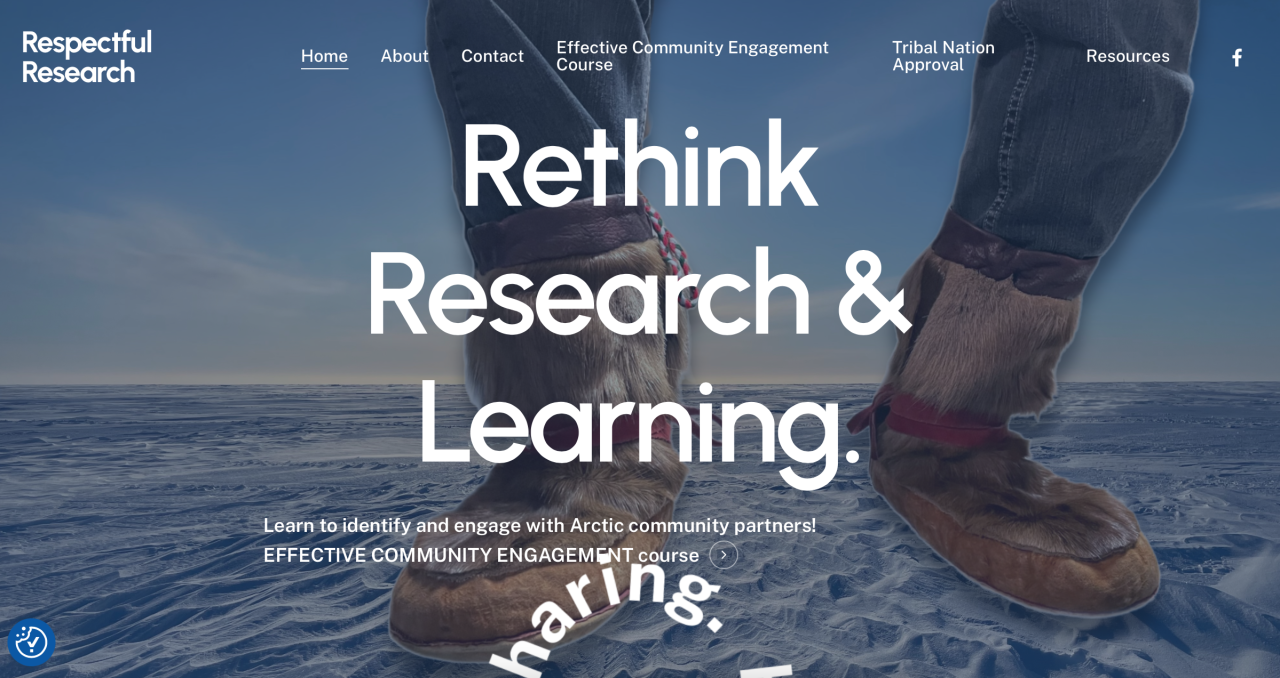Connecting the Dots com Cana Uluak Itchuaqiyaq e Corina Qaaġraq Kramer

Com as nossas duas convidadas, irmãs e colaboradoras que lideram o projecto Respectful Research, tentamos responder à pergunta: como descolonizar o trabalho de investigação no Ártico?
Num episódio recente do nosso podcast, conversámos com a bióloga de conservação Dra. Victoria Buschman (iñupiaq) sobre o papel que as comunidades Indígenas do Ártico devem desempenhar na definição de estratégias de conservação.
Hoje vamos alargar o âmbito dessa discussão, e explorar mais profundamente em que consiste uma abordagem descolonizadora à generalidade do trabalho de investigação sobre o Ártico. Além disso, vamos discutir como esta abordagem pode ser aplicada em contextos institucionais, a nível comunitário. É por isso um privilégio ter connosco duas convidadas muito versadas neste tema: A Dra. Cana Uluak Itchuaqiyaq e Corina Qaaġraq Kramer – não só irmãs, mas também colaboradoras – atualmente responsáveis pelo inovador projeto “Respectful Research“.
A Dra. Cana Uluak Itchuaqiyaq é professora assistente de Comunicação Técnica e Científica na universidade de Virginia Tech. Cana é Iñupiaq, do Noroeste do Alasca, e está registada como membro da Comunidade Nativa de Noorvik. As humanidades digitais, a análise de dados, a teoria crítica da raça e as formas de conhecimento Indígenas são áreas mobilizadas no seu trabalho de investigação, através do qual trabalha as intersecções entre identidade, ciência/tecnologia/medicina, colonialismo e cultura. O seu trabalho procura mostrar como a marginalização de comunidades e académicos com pouca representatividade é frequentemente perpetuada nas práticas académicas, institucionais e sociais dominantes. Cana recorre simultaneamente à teoria e à análise de dados, com o objetivo de criar metodologias que capacitem outros para a investigação e para trabalhos ligados à justiça social, com respeito e sensibilidade, particularmente no âmbito da comunicação técnica.
Corina Qaaġraq Kramer, também de ascendência Iñupiaq, é oriunda da Aldeia Nativa de Kotzebue. Como líder comunitária com uma vasta experiência no terreno, Corina detém um conhecimento especializado e único, particularmente no que toca ao estabelecimento de pontes entre os conhecimentos e valores tradicionais Indígenas e as práticas institucionais ocidentais – pontes que sejam capazes de melhorar o bem-estar das comunidades nativas, bem como a sua saúde e a sua soberania. O seu trabalho de sensibilização é guiado por um desejo de contribuir para restaurar as ligações inerentes dos Povos Indígenas às suas culturas, conhecimentos e comunidades. É de realçar o papel fundamental que Corina desempenhou no estabelecimento do sistema Sayaqagvik de cuidados para crianças, jovens e famílias no noroeste do Alasca. Foi também co-investigadora no Siamit Lab, uma parceria inovadora entre instituições académicas e tribais na área da saúde, da qual a Harvard Medical School faz parte. E ocupou o cargo de directora comunitária na Della Keats Fellowship, um programa de pós-graduação sediado no noroeste do Alasca, que apoia o desenvolvimento da próxima geração de líderes Indígenas na área da saúde. Recentemente, Corina fundou a Mumik Consulting, através da qual aconselha organizações que prestam serviços a comunidades Indígenas, para que estas possam melhorar as suas iniciativas.
Veja a versão em vídeo em baixo (legendas em português disponíveis), ou faça scroll para ouvir a versão em podcast (em inglês) e para ler a versão escrita (em português).
CONNECTING THE DOTS – PODCAST
Não vive sem os seus podcasts? Para não perder um episódio, subscreva o canal da Azimuth na Apple Podcasts ou no Spotify, aqui.
FRANCISCO SOARES (AZIMUTH WORLD FOUNDATION)
Cana, Corina, muito obrigado por estarem connosco hoje.
Cana, cresceu em Kotzebue e mudou-se para a Virgínia, para prosseguir o seu trabalho académico. Já a Corina mudou-se para Kotzebue aos 18 anos, para trabalhar diretamente com a comunidade local.
Podem falar-nos um pouco sobre os vossos dois percursos, e sobre como conduziram à vossa colaboração atual?
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Mudei-me para Kotzebue aos 18 anos, pouco depois de terminar o liceu. Comecei logo a trabalhar na organização de saúde da comunidade, como coordenadora de dados. E comecei aí um percurso de trabalho de 35 anos junto das nossas comunidades e dos nossos jovens. Em casa, coube-me criar crianças durante 20 anos. E por isso fui sobretudo voluntária em organizações de base, em diferentes projetos comunitários, e fui assumindo pequenas posições de liderança a curto prazo, um pouco por toda a comunidade.
Mas, há alguns anos, voltei a trabalhar na nossa organização de saúde, numa função diferente. E comecei a fazer parcerias académicas em diferentes áreas de investigação. E foi assim que fui estabelecendo contactos.
Por vezes, a Cana e eu estávamos no mesmo webinar, sem o saber, porque estávamos em diferentes partes do país. E acabámos por reparar que estávamos as duas lá. E um dia, ao jantar, falámos sobre isso: “Mas o que é que tu fazes? Isto é o que eu faço.” E foi espantoso ver como o nosso trabalho era tão semelhante e se sobrepunha de uma forma tão bonita. Foi por volta dessa altura que começámos a pensar em colaborar.
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Eu e a Corina somos irmãs. E acho que muitas famílias falam do seu trabalho quando se encontram, mas na nossa família há uma enorme proximidade, ligamo-nos sobretudo como pessoas e falamos em primeiro lugar sobre os nossos filhos, falamos sobre o que estamos a fazer nas nossas vidas pessoais. Então, quando nos vimos nestes webinars e descobrimos diferentes vertentes uma da outra, isso trouxe um novo lado muito bem-vindo e maravilhoso à nossa relação como irmãs.
Eu cresci entre a Califórnia e o Alasca. Andei na faculdade no início dos anos 90 e desisti quando comecei uma família. Voltei para casa, em Kotzebue, para ter o meu bebé. Depois voltei a estudar, quando o meu filho mais novo nasceu. E desde então, tenho vivido fora de Kotzebue, embora volte a casa frequentemente. Mas sempre senti, com o privilégio de ter tido esta educação, que tinha o dever de beneficiar realmente o nosso Povo.
Ao longo da minha educação recebi bolsas de estudo de organizações do nosso Povo, do IRA de Noorvik e também da Aqqaluk Trust, em Kotzebue. Sou muito grata por isso. E sempre quis retribuir. Foi assim que a nossa mãe e o nosso pai, Caleb, nos educaram. Para estarmos ao serviço do nosso Povo. Esse é um valor familiar que os nossos pais nos inculcaram. A nossa mãe, Gladys I’yiiqpak Pungowiyi, é da família Wells, de Noorvik, no Alasca. O nosso pai biológico chamava-se Karl Welm, e era oriundo da Alemanha. Mas também fomos criadas, e adoptadas, verdadeiramente, pelo nosso padrasto, Caleb Lumen Pungowiyi, que é Yupik, de Savoonga, no Alasca.
E eu queria mesmo retribuir. Quando encontrei a Corina durante estes webinars, percebemos que os nossos objectivos estavam alinhados. Perguntei-lhe se ela queria estabelecer uma parceria comigo, num trabalho de investigação que envolvesse a comunidade. E ela disse que não. Foram precisos dois anos para que ela finalmente aceitasse.
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
A Cana mencionou a palavra “investigação”, e eu dei meia volta e fui-me embora. A fatiga perante a investigação é real. Mas é bom que, como irmãs e como família, possamos confiar uma na outra. E quando começámos a falar mais seriamente, fui percebendo que podia mesmo resultar. Se há alguém que consiga que resulte, somos nós, porque existe uma enorme capacidade de comunicar, de ser vulnerável, de confiar. Além disso, foi muito bom perceber que estamos a continuar o legado do nosso pai, Caleb Pungowiyi, que esteve envolvido em muitos projetos de investigação a nível global e no Ártico, como ponto de ligação Indígena. E o legado da nossa mãe, também. Era uma grande defensora do nosso Povo, e preocupada com as suas necessidades, enquanto directora de operações da nossa empresa Nativa.

Créditos: Cana Uluak Itchuaqiyaq and Corina Qaaġraq Kramer
FRANCISCO SOARES
Muito obrigado por partilharem um pouco da vossa história familiar. E é interessante perceber como estão a colaborar, tendo chegado ao trabalho de investigação por duas vias diferentes.
Refletir sobre a posicionalidade é crucial para compreender como se envolvem com, e como discutem, as comunidades nas quais se centra o vosso trabalho. Podem explicar-nos melhor os vossos dois papéis:, uma académica que opera externamente à comunidade e uma líder comunitária que trabalha a partir de dentro? Como é que estes papéis moldam e definem a vossa abordagem?
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Uma vez que não vivo atualmente na nossa região, nem sequer no Alasca, e já desde há algum tempo, seria bastante audacioso da minha parte tentar falar em nome das nossas comunidades, tentar falar sobre a sua experiência da realidade e sobre os contextos comunitários, no meu trabalho.
Na verdade, o meu trabalho consiste em ouvir as comunidades e utilizar a minha capacidade, o público que tenho, a posição que ocupo, para amplificar e realçar as vozes das comunidades. E devido ao meu estatuto, enquanto “Dr. Itchuaqiyaq”, os académicos e outras pessoas podem facilmente olhar para mim como uma espécie de especialista sobre o nosso Povo, ou como uma porta-voz do nosso Povo, e eu tento rejeitar isso. Esforço-me muito por prestar atenção às questões de poder, de posicionalidade privilegiada, tanto no meu trabalho, como enquanto Iñupiaq, e por garantir que destaco e amplifico vozes da comunidade, como a da Corina.
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
A Cana tem sido sempre muito generosa, muitas vezes reportando-se a mim e a outras pessoas da comunidade, para se certificar, sem margem para dúvidas, que uma visão realista, oriunda da comunidade, é defendida e expressa. Isso não é algo que aconteça frequentemente.
E tem sido muito útil para nós, penso eu, sermos duas pessoas a colmatar esta lacuna. Porque basicamente estamos de mãos dadas, a fazer a ponte entre a comunidade e o mundo académico.
External Link
FRANCISCO SOARES
E falando dessa lacuna, sabemos que, historicamente, a relação das comunidades Indígenas com a academia tem sido marcada por casos de exploração do conhecimento Indígena, pela falta de inclusão das comunidades no trabalho de investigação e pela incapacidade de dar prioridade às necessidades da comunidade na definição dos objectivos da investigação.
Como podemos abordar esta história de forma respeitosa, evitando fazer do trauma entretenimento? Como pode ser assegurada uma representação autêntica das comunidades, centrada não apenas no passado, mas também no futuro?
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Na verdade, é muito fácil e simples fazê-lo. Basta ouvir as comunidades. Isso implica, infelizmente, uma mudança de paradigma. E é algo que provoca nas pessoas um grande desconforto. Especialmente entre académicos e instituições. Estão habituados a ocupar uma posição de controlo e poder, e assumem que o conhecimento e a inovação provêm das suas esferas, em vez de considerarem que os verdadeiros especialistas sobre a comunidade estão na própria comunidade. Que é na comunidade que estão os especialistas nos seus problemas e nas suas terras.
Esta mudança de paradigma de que falo, em que se passam a ouvir as comunidades, envolve dar-lhes poder de decisão no trabalho de investigação. Isso torna o trabalho sustentável, porque passa a servir as aspirações, iniciativas e necessidades da comunidade.
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Como disse há pouco, ouvi “investigação” e fugi na direção oposta. E isso deve-se em grande parte a esta rutura histórica que aconteceu com a estruturação ocidental dos negócios e da educação, com a chegada de todos estes modelos ocidentais, que basicamente subverteram as nossas prioridades, os nossos valores. Modelos que não nos aceitam, ou que não nos aceitaram, enquanto especialistas.
Quando nós sabíamos que o éramos. Sabíamos que éramos cientistas. Não se pode viver numa comunidade do Ártico sem se ser especialista em muitas, muitas coisas. O isolamento geográfico, as condições meteorológicas mais extremas, a luta pela sobrevivência, viver da terra, todas essas coisas requerem um conhecimento tão profundo como qualquer conceito ocidental que se aprenda num livro ou que se pratique num projeto de investigação. Nós sempre formulámos teorias, praticámo-las, fizemo-las funcionar e somos especialistas.
É difícil pensar naquilo a que chamo “inverter o guião” do mundo académico, ou mesmo do mundo empresarial ocidental. Mesmo na nossa comunidade, entre o nosso Povo. Por haver esta ideia de que não somos especialistas, ou de que não somos professores, ou de que não somos médicos ou cientistas.
Levei algum tempo a compreender – e ainda estamos a lidar com isso, porque é um processo difícil – que também se podem estabelecer relações boas e harmoniosas em que todos ganham, se as parcerias forem bem estabelecidas. Porque as comunidades Indígenas têm grandes necessidades. E nós não temos os meios para as satisfazer. Algumas delas exigem especialistas, porque são questões que advêm dos modelos ocidentais de que falávamos.
Mas e se estabelecêssemos parcerias? E se o fizéssemos, mas de forma a que o mundo académico e da investigação ouvisse as comunidades e lhes conferisse autoridade, liderança e lhes desse formação? Isso, sim, poderia ser uma relação bonita e harmoniosa, vantajosa para todos. E é precisamente nesse sentido que trabalhamos.
Crédito: Cana Uluak Itchuaqiyaq and Corina Qaaġraq Kramer
FRANCISCO SOARES
Sabemos que a investigação polar recebe generosos apoios financeiros, por exemplo. Mas o financiamento também pode tornar-se um espaço propício a práticas de assimilação. Qual é a vossa perspetiva sobre as atuais tendências de financiamento? E quais são as suas implicações para os académicos Indígenas e para as comunidades Indígenas?
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Estamos todos a assistir a mudanças sem precedentes e muito bem intencionadas no sector do financiamento governamental. E fico feliz ao ver isso. Em primeiro lugar, porque penso que outros financiadores, mesmo que sejam organizações governamentais mais pequenas, podem seguir o exemplo.
E estamos também a assistir a um ressurgimento Indígena sem precedentes. Os Povos Indígenas estão-se a erguer, dizendo: “Nós merecemos ter uma voz, nós somos detentores de informação, nós somos especialistas”. E este é, por isso, um momento extraordinário.
Sinceramente, como membro de uma comunidade Indígena, que não teve educação formal segundo o modelo ocidental, é muito bom ser reconhecida a este nível, como especialista na minha área, e ser convidada a participar. Ao mesmo tempo, há ainda muito trabalho a fazer para tornar o apoio financeiro às comunidades realisticamente acessível.
Estive recentemente no júri do programa “Navigating the New Arctic”, da NSF, para avaliar candidaturas. E foi extremamente difícil para mim. Nessa altura, eu tinha provavelmente três trabalhos a tempo inteiro, numa organização que não conseguia preencher os cargos necessários ao seu funcionamento. Além disso, eu tenho uma família e muitas outras responsabilidades. E, volto a repetir, nós vivemos da terra, da subsistência. E pôr o meu cérebro a avaliar, de forma científica, estas propostas foi extremamente difícil.
Algumas pessoas muito simpáticas, entre as quais o Liam, que trabalha na NSF, dispuseram-se a fazer comigo um balanço da minha experiência neste júri. E os meus comentários foram muito bem recebidos, felizmente. Disse-lhes que não é possível para uma comunidade candidatar-se a estes apoios e ser seleccionada. Que é realmente impossível. E foi bom ouvi-los dizer: “Talvez haja uma forma de promover novas oportunidades acessíveis para as comunidades”.
De qualquer forma, no que toca a financiadores privados, têm havido oportunidades mais acessíveis para as comunidades. Pelo que tenho visto, muitos procuram projectos que envolvem capital, e as necessidades sociais que nós temos requerem trabalhadores. Requerem contratar pessoas, em vez de comprar coisas. Esse é um dos aspetos que os financiadores privados deviam melhorar. Seria muito útil haver mais oportunidades de financiamento para este tipo de projectos, ligados à educação tradicional e cultural, e que não precisam necessariamente de muito capital.
Na minha opinião, também não tenho visto um esforço assim tão grande por parte dos financiadores privados no sentido de alterarem o seu funcionamento interno, de confrontarem os pressupostos ocidentais e coloniais nos quais se baseiam os modelos de financiamento.
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Mudar os procedimentos que a Corina mencionou – e que são práticas coloniais que não funcionam necessariamente, ou que não se enquadram bem, ou que não têm uma boa tradução para as realidades da comunidade e para os seus sistemas de valores – é necessário, e é muito mais fácil fazê-lo entre financiadores privados, do que no sector governamental.
Aos financiadores privados, as comunidades podem comunicar que, por exemplo, estão a ter problemas com os requisitos para a apresentação de relatórios. Ou que o pedido de objectivos “SMART” (específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais) não permite incluir aspetos da sua realidade, tais como os seus sistemas de valores. Ou também que são incompatíveis com a temporalidade, com a realidade e as restrições de tempo, tal como este é vivido nas comunidades Indígenas.
Mas o financiamento governamental, como dizia a Corina, está realmente a mudar. E concordo que essas mudanças são bem intencionadas. Na minha opinião, a National Science Foundation, e o gabinete de Polar Programs em particular, são os mais avançados, em termos de implementar aspetos relacionados com equidade. É o gabinete que está a guiar esta tendência. E estão a fazer um trabalho fantástico, indo ao encontro das prioridades das comunidades Indígenas.
Mas a forma como essas prioridades estão realmente a ser incorporadas nas políticas e no funcionamento do financiamento governamental, tal como dizia a Corina, acontece assim: querem ter mais participação Indígena no trabalho de investigação. Mas será que uma proposta organizacional totalmente Indígena pode ser competitiva no âmbito do financiamento governamental? Talvez não.
Isso implica uma mudança enorme, ao nível de quem avalia as propostas. E quem o faz é a academia, que tende a reificar-se a si própria como especialista. Trata-se, por isso, de um circuito fechado. E na National Science Foundation, e noutras organizações também, no âmbito governamental, ainda há muito trabalho a fazer para mudar essas políticas.
O que estão a tentar fazer é bem intencionado. Mas também pode ser feito de forma descuidada, quando envolve comunidades Indígenas. Isto porque utilizam, muitas vezes, uma abordagem pan-Indígena. E a forma como as comunidades Indígenas funcionam e trabalham nos Estados Unidos contíguos e no Alasca, por exemplo, são muito, muito diferentes. Mas as políticas governamentais que estão a ser implementadas literalmente neste momento, no seguimento de decretos presidenciais e de outras coisas do género, não têm realmente em conta essas nuances.

Créditos: Cana Uluak Itchuaqiyaq and Corina Qaaġraq Kramer
FRANCISCO SOARES
Queria falar um pouco sobre alguns dos vossos projectos em conjunto. Um deles é o “Rematriation Project – Restoring and Sharing Inuit Knowledges”.
Podem falar-nos deste projeto e da forma como procura revitalizar o conhecimento tradicional, evitando o extractivismo cultural? Acreditam que os novos dispositivos e plataformas de comunicação digital têm o potencial de promover a auto-determinação das comunidades Indígenas?
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
O Rematriation Project é uma colaboração entre a Mumik Consulting da Corina, e a Universidade de Virginia Tech. Eu lidero o projeto aqui, na Virginia Tech. Estamos a trabalhar em conjunto para criar um arquivo comunitário online, que sirva – que realmente sirva – o Povo do noroeste do Alasca.
Não só estamos a trabalhar para desenvolver estruturas que recebam um arquivo Inuit, concebido para utilizadores Inuit (e não para académicos), como estamos também a trabalhar para que a comunidade ganhe competências para arquivar digitalmente, permitindo que este arquivo comunitário seja replicável. E que seja, também, verdadeiramente um projeto da comunidade. Isto porque queremos garantir que o projeto é sustentável, e que a parceria académica pode acabar por desaparecer, com a comunidade a assumir a manutenção do projeto e o seu desenvolvimento, de acordo com as suas próprias necessidades. Queremos ser apenas uma ajuda no arranque.
Queremos desenvolver capacidades ao nível dos arquivos digitais, e queremos também despertar na comunidade o interesse pelo arquivo e pelo seu potencial de crescimento. Isso passa pela literacia de dados, que é fundamental para a proteção de dados das comunidades Indígenas, e para a sua soberania sobre eles. Esta forma de literacia pode ser tão simples como saber utilizar a informação contida no arquivo para compilar dados numa folha de cálculo, e depois utilizar essa folha de cálculo para ajudar a tomar decisões ou definir regras para os membros da comunidade. Mas também pode servir apenas para aprender coisas interessantes e despertar a curiosidade dos nossos jovens e da nossa comunidade, despertando o orgulho da comunidade no nosso património cultural, que vai ser preservado neste arquivo digital comunitário.
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Partimos propositadamente das necessidades das comunidades. O meu trabalho envolvia organizar este enorme arquivo rural, que compilava a nossa história oral. Estamos a falar 2300 ficheiros que continham a nossa história enquanto Povo, os nossos conhecimentos, informações geográficas, e conhecimentos sobre subsistência: Como fazer ferramentas. Como fazer um arranhador de gelo para caçar focas, que não leve a foca a sentir que se aproxima um urso polar, mas sim uma outra foca inofensiva.
Estão lá contidos estes conhecimentos, coisas que nem conseguimos imaginar. Conhecimentos que desconhecíamos, porque estavam descritos na língua Iñupiaq. O que os tornava inacessíveis às gerações mais novas. Nós não falamos fluentemente a nossa língua. E os membros mais velhos da comunidade, que ainda dominam a língua, já estão reformados, já não estão em condições de se sentarem a ajudar-nos com o trabalho de arquivo. E nós não temos os meios para contratar pessoas que possam levar isto a cabo.
Por isso, quando falei com a Cana, expliquei-lhe que o nosso Povo precisa muito deste arquivo. Precisamos de ganhar acesso à nossa cultura, à nossa língua, aos nossos costumes. Isto podia ajudar a resolver tantos problemas que estão a causar sofrimento na comunidade. E a Cana começou a pensar em como poderia ajudar, e a procurar ajuda junto das pessoas com quem trabalha todos os dias.
Conseguiu juntar uma equipa, e utilizar os seus conhecimentos e experiência na área da comunicação técnica e da retórica, para nos traduzir a linguagem técnica que nós não compreendemos. E foi assim que demos início ao Rematriation Project.
E que já se expandiu para um novo projeto, chamado Coding Project. Uma iniciativa que nos está a ajudar a codificar a língua Iñupiaq, equipando um computador para a traduzir por nós. Esse foi o toque mágico da “Dra. Itchuaqiyaq”, que através dos seus conhecimentos e contactos nos permitiu colaborar com linguistas computacionais, de renome internacional, e nos ajudou a pôr este trabalho em marcha.
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
É essa a chave. Ao ouvir as necessidades das comunidades, percebe-se em que ponto se encontra a comunidade. Os académicos continuam um pouco isolados. Tentamos promover um trabalho interdisciplinar, mas continua a haver um certo isolamento, e um trabalho assente em projetos singulares.
E é preciso pensar no problema expresso pela comunidade, traduzi-lo em projetos complementares, e depois compreender quais são as competências necessárias para pôr esses projetos em marcha. E perceber como se atraem especialistas, usando a persuasão, para conseguir que esses especialistas trabalhem basicamente de graça nestes projetos comunitários.
Eu não sou arquivista digital. Não sou linguista computacional. Faço comunicação técnica. Utilizo estratégias de comunicação para facilitar o trabalho dos membros da equipa, e para que esse trabalho conjunto responda às necessidades, objectivos e aspirações da comunidade.
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Quando é claro que a equidade, a justiça, o ressurgimento e a soberania são defendidos no projeto, e que a comunidade participa nisso, passa a haver um coração na base do projeto. Não se trata apenas de um projeto científico ou académico. Passa a ser algo que vai realmente ajudar a comunidade.
E, no início, fizemos questão de não nos candidatarmos a bolsas avultadas, porque queríamos fazer o projeto à nossa maneira. Queríamos manter esta pureza, estas condições que permitem que realmente funcione, sem termos de nos adaptar aos critérios de um concurso, sem nos preocuparmos com o cumprimento desses critérios. Porque, quando se faz isso, o projeto fica condicionado pela bolsa, em vez de se manter a pureza de tentar fazer apenas o que é preciso para ajudar as pessoas.

Créditos: Cana Uluak Itchuaqiyaq and Corina Qaaġraq Kramer
FRANCISCO SOARES
O vosso trabalho defende veementemente que as comunidades Indígenas devem ser ouvidas em toda a investigação desenvolvida nos seus territórios Indígenas. E defendem que o trabalho de investigação tem de ser desenhado de acordo com as necessidades, valores e sistemas de conhecimento das comunidades.
Ainda existem muitas lacunas entre as intenções de realizar investigação equitativa e a forma como os projetos de investigação estão de facto a ser concebidos e implementados no terreno?
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Claro que sim. Havia camadas e camadas de problemas embrenhados, criados pelo colonialismo ao longo do último século. Para muitos povos e comunidades Indígenas, há tanto ainda por resolver. E sinto que só agora nos estamos a aperceber de que isto tem de acontecer.
E como um membro da comunidade para quem isto se tornou claro, eu consigo ver claramente o racismo estrutural e a opressão psicológica, todas estas coisas. E é muito difícil para mim, como membro da comunidade, trazer estes tópicos para a discussão, e explorá-los ao ponto das nossas próprias organizações, dos membros da nossa comunidade, se apercebem disso, de o admitirem, de assumirem responsabilidades, tudo isso.
Portanto, mesmo a nível comunitário, há muito trabalho por fazer.
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Eu acabei por escrever um guia para um trabalho de investigação equitativo no Ártico. É apenas um guia de 12 páginas – que quis que fosse peer-reviewed e avaliado por membros da comunidade Indígena, só para ter a certeza de que o que eu estava a dizer não era descabido – que define 10 estratégias para um trabalho de investigação equitativo no Ártico.
E não sabia bem no que ia dar esta iniciativa, mas acabou por levar à criação de uma newsletter, para a qual a Corina passou também a contribuir. Começámos por volta de Março de 2023. E desde então, continuamos a desenvolver as nossas parcerias de investigação com a comunidade, e continuamos a nossa própria parceria que une a universidade e a comunidade, e temos lidado com todos os aspetos deste processo, temos feito candidaturas para bolsas da NSF, temos procurado bolsas filantrópicas, temos feito todas estas coisas para suportar os projetos que temos vindo a discutir hoje. E temos sentido as dores de crescimento envolvidas em todos estes passos. Temos sentido na pele o que isso envolve.
E a Corina mencionou como a nossa relação nos ajuda a encarar este trabalho, porque, aconteça o que acontecer, eu e a Corina amamo-nos. Somos irmãs. A Corina costumava carregar-me às costas, quando eu era bebé. Sabemos que partilhamos esse passado comum. E temos tido discussões e discórdias. Este trabalho já nos pôs em confronto e tivemos de nos esforçar para ultrapassar isso. Porque sabíamos que podíamos confiar uma na outra, mesmo quando estivávamos zangadas, mesmo quando não estávamos de acordo. Nós podemos apoiar-nos na nossa relação para explorar o que realmente está em cima da mesa, para sermos vulneráveis nas nossas discussões. Podemos até chorar em frente uma da outra, por causa de desafios profissionais, e perceber em conjunto como estes nos estão a afetar. E depois, ao passarmos por esses percalços, somos capazes de nos distanciar, e de ver como eles são, na verdade, sintomas de algo que vai para além da nossa interação. Somos capazes de pensar como, na verdade, derivam da forma como as instituições e as comunidades interagem.
E foi assim, ao atravessar este árduo período de trabalho em conjunto, ao escutarmos profundamente cada uma das nossas posições, e ao combinarmos toda a nossa experiência, que acabámos por desenvolver um curso que acabou de ser lançado. Chama-se Curso de Envolvimento Eficaz da Comunidade e de Pesquisa Equitativa no Ártico.
Recebemos imensos e-mails e perguntas detalhadas sobre o que está envolvido neste trabalho. E por isso, tem sido divertido pensar este tema. Queremos conseguir mostrar como se começa este tipo trabalho, e como se pode depositar confiança. Mesmo que se trate de um académico experiente. Ou de um estudante de pós-graduação que está a tentar começar da melhor forma. Ou de alguém que esteja a trabalhar dentro das próprias estruturas de poder no meio académico, alguém com menos poder nessa estrutura, mas que pode, ainda assim, usar o seu poder institucional e a sua posição para trabalhar no sentido da equidade na investigação, no sentido de envolver as comunidades Indígenas de forma equitativa, especialmente no Ártico.
FRANCISCO SOARES
Muitos parabéns pelo início do curso!
Falaram sobre a confiança que está na base da vossa relação, e de como isso vos permitiu olhar mais profundamente para todas estas questões.
A confiança é precisamente o que tem desde há muito tempo falhado na relação entre a academia e as comunidades Indígenas. Podem falar-nos sobre como o respeito tem de estar na base de qualquer compreensão verdadeira das necessidades de uma comunidade? E sobre o que está envolvido em tentar recuperar a confiança das comunidades Indígenas no Alasca, tanto em contextos de investigação, como institucionais?
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Eu colaboro com a Harvard Medical na formação de médicos. E uma das minhas primeiras abordagens é: “Quantas aulas tiveste, quantos livros leste, quanto tiveste de aprender sobre medicina para chegares onde estás hoje? Então, percebe que precisas de ler e de aprender sobre nós, enquanto Povo”.
Eu julgo que é fundamental que se procure ver e compreender as pessoas com quem se está a trabalhar. Os seus sistemas de valores, a dinâmica local na aldeia, a forma como as coisas funcionam no terreno. Compreender que o verão e o outono não são uma boa altura para vir colaborar, porque estamos a subsistir. Nós vamos ter de sobreviver durante o resto do ano. Por isso, não nos venham bater à porta nessa altura, a não ser que estejam dispostos a pegar num ulu e a ajudar-nos a amanhar o peixe. E isso leva-nos a outro nível de relacionamento.
Nós somos pessoas relacionais. Os Povos Indígenas são relacionais e comunitários. Ajudamo-nos uns aos outros. Não somos como essas famílias que vivem cingidas à suas cercas brancas, que entram para a garagem sem acenar ao vizinho. Conhecemo-nos uns aos outros, ajudamo-nos uns aos outros, vivemos juntos. E isso vai incluir qualquer pessoa que venha de fora, que venha viver connosco, independentemente do propósito da sua visita. Somos pessoas relacionais e não podemos manter estas separações. Não quero saber se és médico. Quero saber de onde és. Quero saber se tens irmãos, ou se tens filhos, ou como se chama o teu cão, ou que tipo de pesca gostas de fazer. Isso é importante para nós antes de qualquer outra coisa.
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
As relações são muito importantes. E a única forma de construir essas relações é reconhecer que se está a entrar numa comunidade enquanto pessoa, tal como referiu a Corina. E reconhecer também que é enquanto pessoas que estamos a interagir com a comunidade. Não podemos chegar com o nosso trabalho, com o nosso CV, e esperar que isso envolva a comunidade.
E desenvolver estas relações é fulcral para que se consiga realmente ouvir as comunidades. Porque quando nos relacionamos enquanto pessoas, depositamos confiança na comunidade, à medida que ouvimos. E a comunidade deposita confiança em nós, ao ser ouvida. Ou seja, trata-se de uma confiança mútua.
Nas duas equipas de investigação com as quais trabalho, e que são realmente interdisciplinares e compostas por académicos em início de carreira, a maioria de nós ainda não tem um contrato fixo enquanto investigador. Estamos, por isso, numa posição em que temos de provar ao nosso empregador que nos deve continuar a contratar, o que envolve todo o tipo de requisitos. Ou seja, estes investigadores têm de confiar na comunidade, acreditando que o projeto que aí desenvolvem lhes vai permitir manter e solidificar a sua carreira. Por mais que a comunidade diga: “Este projeto vai ajudar-nos a manter e a desenvolver as nossas aspirações e necessidades”. E para que isso realmente aconteça, há uma espécie de esticar, em que todos trabalham e se esforçam para abarcar o conjunto dos objectivos, para abarcar o conjunto das competências. Todos têm de se constituir como parte de uma equipa.
E foi por isso que tive de olhar para as minhas próprias competências com uma mente aberta, pensando na melhor forma de as conjugar com os objectivos, aspirações e necessidades das comunidades. E isso exige trabalhar realmente a partir da humildade. Não é fácil, mas é absolutamente necessário.

Créditos: Cana Uluak Itchuaqiyaq and Corina Qaaġraq Kramer
FRANCISCO SOARES
Hoje em dia, cada vez mais pessoas falam do conhecimento Indígena. Mas, ao mesmo tempo, continua a haver uma baixa representatividade de estudantes Indígenas. Cana, pode explicar-nos de que forma o seu trabalho tenta colmatar esta lacuna?
E tenho uma questão paralela para a Corina: Partindo do seu envolvimento com programas de liderança juvenil, pode falar-nos mais sobre a centralidade de elevar pessoas de volta à liderança?
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Completei o meu doutoramento e decidi que não queria ensinar. Porque há neste meio muitas coisas que considero tóxicas. E precisamente entre as coisas que eu, enquanto estudante, considerava tóxicas, estavam as barreiras de acesso que os estudantes Inuit, e outros estudantes Indígenas, e estudantes de comunidades marginalizadas e com pouca representatividade, encontram no meio académico.
Eu própria enfrentei essas barreiras e pensei: “Vou-me embora. Obrigada pelo doutoramento, espero que me paguem melhor por causa dele, mas vou-me embora”. Eu tinha recebido ofertas de emprego por parte destas universidades, e a minha mãe disse-me: “Olha para os recursos a que tens acesso. Tens basicamente um contrato de seis anos, e um percurso para te tornares professora titular. E que tal se encarasses o mundo académico como um desafio, através do qual canalizasses estes recursos do mundo académico para o nosso Povo?”. E esse objectivo pareceu-me importante.
E, afinal, adoro ensinar. E, afinal, adoro a investigação. Mas a realidade é que gosto ainda mais do meu Povo. E o trabalho que escolho fazer enquanto académica passa por encontrar formas de satisfazer as necessidades do nosso Povo, utilizando os recursos da universidade, mas também compreendendo como funciona o meio académico. E procuro trabalhar na minha esfera de influência para mudar o meu departamento, para mudar os programas de bolsas em que estou envolvida. Para abrir caminhos nesta universidade, caso as pessoas a escolham. Para lhes dar o apoio de que necessitam. Para procurar formas de tornar menos duro este lugar.
Trabalho arduamente para que as pessoas da minha comunidade se possam envolver no trabalho de investigação, ou para que simplesmente se possam envolver no meio académico. E para o desmistificar, simplesmente. E também para traçar um caminho que os estudantes Inuit possam seguir. Porque eu própria tive de fazer esse caminho e sei o quão difícil foi.
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
E eu, pessoalmente, não quero tirar um curso. Nunca quis.
Lembro-me de ter tido uma conversa com a nossa equipa na organização de saúde da comunidade. Estávamos a falar de elevar as vozes da população local e de conquistar um lugar na tomada de decisões. E uma das psicólogas dizia: “Bem, só precisamos de os encorajar a ir à escola e a receber formação, e depois terão um lugar à mesa e poderão dar a sua opinião”. E eu disse: “Não”. E esta era uma pessoa absolutamente espantosa, preocupada com questões de equidade, tudo isso.
Mas era nisso que realmente se acreditava, porque foi isso que nos ensinaram. Sempre nos disseram na aldeia: “Saiam, estudem, voltem e ajudem o vosso Povo”. E eu, pessoalmente, nunca o desejei. E recuso-me a ser menosprezada por causa disso. Eu tenho educação. Sou autodidata e tenho formação comunitária.
Eu recebi o meu diploma, mas muitas pessoas da comunidade só frequentaram o liceu. Muitos foram enviados para colégios internos e não prosseguiram os estudos depois disso. Mas são peritos na construção de trenós, ou têm conhecimentos sobre como viver no campo, e qual o tempo que vai fazer pela posição de certa nuvem no céu, e porque é que não nos devemos aproximar de uma nuvem amarela no céu, uma vez que sinaliza mar aberto.
Por isso, quando ajudo a desenvolver programas para jovens e a educar jovens lideranças, quero sempre certificar-me de que o conhecimento do nosso Povo é considerado uma forma de educação. Temos o nosso próprio sistema educativo na aldeia. Sempre tivemos. Mas é mais um modelo de aprendizagem em graus, no qual nos vamos formando. Formamo-nos para poder amanhar o peixe, quando chegamos a certa idade. E eu tenho estado estado lá, quando um miúdo de 11 anos diz: “Não posso acreditar. Este ano é o meu ano”.
E portanto, há este nível de sabedoria que se desenrola num sistema totalmente diferente, de uma forma totalmente diferente, e que é equivalente a um sistema educativo ocidental. Isso tem de ser reconhecido em todos os aspetos.
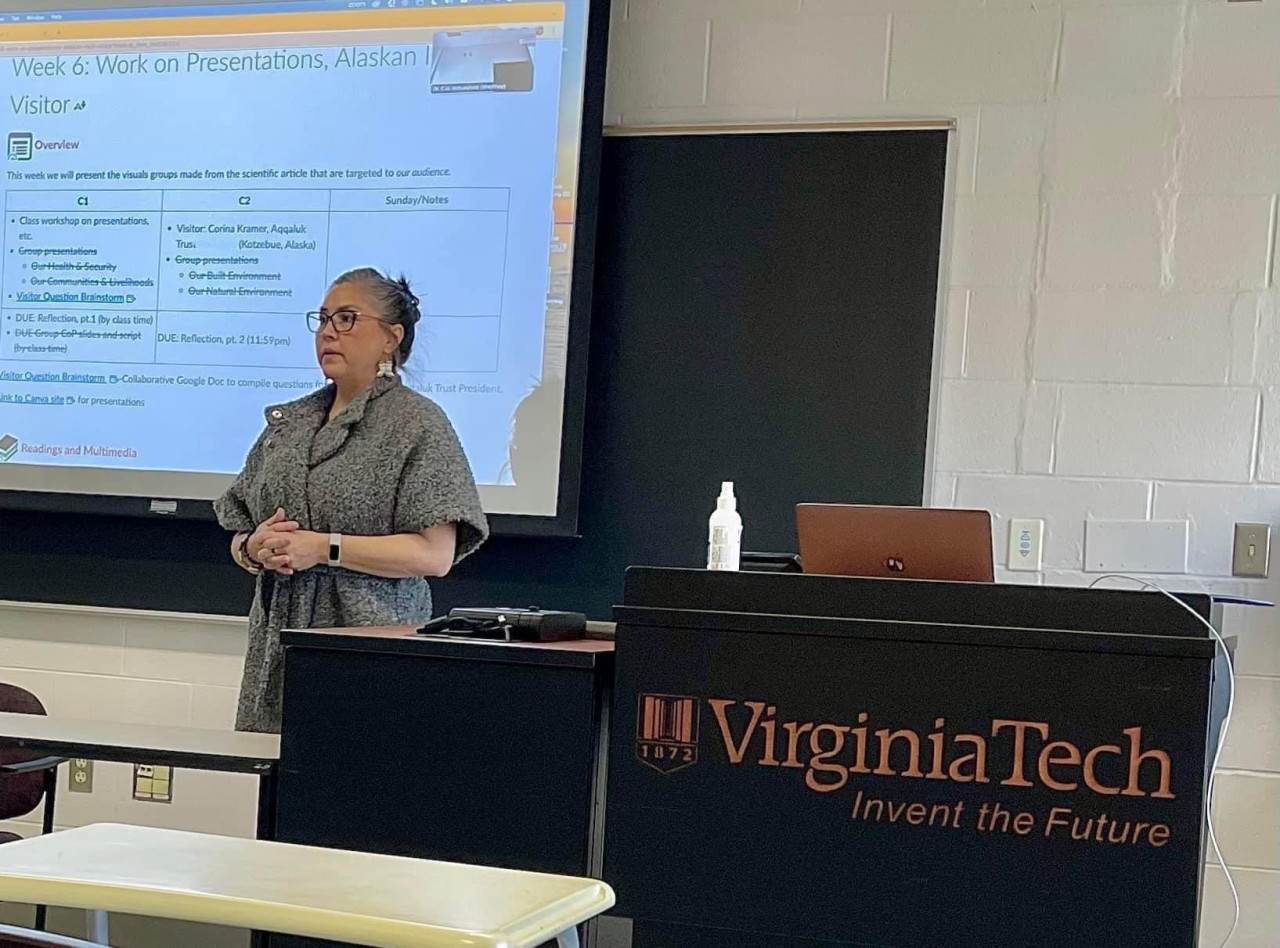
Créditos: Cana Uluak Itchuaqiyaq and Corina Qaaġraq Kramer
FRANCISCO SOARES
Como gostariam de ver o vosso trabalho a ser implementado nos próximos anos? E, nesse sentido, o que é que neste momento alimenta as vossas esperanças?
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
O Liam, da NSF, que é uma pessoa maravilhosa, e que tem sido um verdadeiro defensor das iniciativas e da investigação Indígenas, fez-me uma pergunta semelhante, na nossa primeira reunião. Perguntou-me: “O que esperas ver, ou o que esperas de tudo isto?” E eu penso que podemos contribuir para a mudança dos sistemas que afectam o nosso Povo, globalmente. Podemos fazer parte dessa mudança global. E, por alguma razão, conseguimos encontrar esta espécie de magia, que realmente funciona aí, na criação de pontes entre comunidades, quer sejam comunidades Indígenas ou comunidades académicas.
E nós temos essa capacidade. E temos vindo a observar o alcance deste trabalho a nível global, e o quão necessário é. E há entre nós, Povos Indígenas, muitos que estão a fazer exatamente o mesmo trabalho. Por isso, só quero fazer parte desta comunidade e contribuir para uma mudança que chegue até aos nossos lares, onde persistem muitas necessidades a que a investigação e o meio académico continuam a não dar resposta.
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Quero o mesmo para mim, no trabalho que faço na vertente académica, e na forma como traduzo esta experiência em publicações, que são depois utilizadas como ferramentas para outras pessoas justificarem as mudanças que querem implementar no seu próprio trabalho.
Sucesso, para mim, seria poder reformar-me deste trabalho, não ter de insistir, dizendo: “Podemos criar alguma equidade, por favor?”. O nosso pai estava literalmente a fazer este trabalho no início dos anos 90. Já há muito tempo que exigimos a mesma coisa.
Muitas das recomendações que eu e a Corina partilhamos são, para nós, senso comum. Por isso, eu adoraria que as pessoas se empenhassem em fazer este trabalho. E que avaliassem as suas motivações. E que percebessem que partilhar o poder é, na verdade, a chave para a inovação no trabalho de investigação sobre o Ártico. Partilhar o poder e ouvir que “a nuvem amarela no céu assinala mar aberto”, e reconhecer nisso uma observação científica, uma demonstração de conhecimentos científicos.
E quando alguém diz: “Estou interessado em XYZ.” E a comunidade diz: “Sim, já sabemos ao que isso se refere. Provavelmente tem que ver com isto.” Que esse investigador ouça a comunidade. Porque o que a comunidade vai dizer no seguimento disso é: “O que realmente nos interessa é isto. Porque há algo que se está a aproximar. Está cada vez mais perto e nós ainda não percebemos o que aí vem realmente”. Porque em Kotzebue, na zona noroeste do Ártico e ao longo desta costa do Alasca, as comunidades na linha da frente estão a enfrentar as alterações climáticas neste preciso momento. A curiosidade académica não está a salvar casas, não está a salvar vidas, nem a salvar a ligação cultural e a ligação da comunidade à terra. Não está a fazer esse trabalho.
Por isso, o meu objetivo é que as pessoas simplesmente ouçam. Que façam o trabalho. Que desobstruam o seu próprio caminho, verdadeiramente, e que sigam em direção à inovação e ao trabalho com as comunidades. Que desobstruam o seu próprio caminho, para que eu me possa reformar e me possa dedicar à construção, que é realmente o que eu gosto de fazer. Construir pequenas casas e móveis, e trabalhar na minha oficina, e usar um avental, despreocupada em casa, sem ter de ser a “Dra. Tal”. Por favor, isso deixar-me-ia feliz.
External Link
Connecting the Dots com Cana Uluak Itchuaqiyaq e Corina Qaaġraq Kramer

Com as nossas duas convidadas, irmãs e colaboradoras que lideram o projecto Respectful Research, tentamos responder à pergunta: como descolonizar o trabalho de investigação no Ártico?
Num episódio recente do nosso podcast, conversámos com a bióloga de conservação Dra. Victoria Buschman (iñupiaq) sobre o papel que as comunidades Indígenas do Ártico devem desempenhar na definição de estratégias de conservação.
Hoje vamos alargar o âmbito dessa discussão, e explorar mais profundamente em que consiste uma abordagem descolonizadora à generalidade do trabalho de investigação sobre o Ártico. Além disso, vamos discutir como esta abordagem pode ser aplicada em contextos institucionais, a nível comunitário. É por isso um privilégio ter connosco duas convidadas muito versadas neste tema: A Dra. Cana Uluak Itchuaqiyaq e Corina Qaaġraq Kramer – não só irmãs, mas também colaboradoras – atualmente responsáveis pelo inovador projeto “Respectful Research“.
A Dra. Cana Uluak Itchuaqiyaq é professora assistente de Comunicação Técnica e Científica na universidade de Virginia Tech. Cana é Iñupiaq, do Noroeste do Alasca, e está registada como membro da Comunidade Nativa de Noorvik. As humanidades digitais, a análise de dados, a teoria crítica da raça e as formas de conhecimento Indígenas são áreas mobilizadas no seu trabalho de investigação, através do qual trabalha as intersecções entre identidade, ciência/tecnologia/medicina, colonialismo e cultura. O seu trabalho procura mostrar como a marginalização de comunidades e académicos com pouca representatividade é frequentemente perpetuada nas práticas académicas, institucionais e sociais dominantes. Cana recorre simultaneamente à teoria e à análise de dados, com o objetivo de criar metodologias que capacitem outros para a investigação e para trabalhos ligados à justiça social, com respeito e sensibilidade, particularmente no âmbito da comunicação técnica.
Corina Qaaġraq Kramer, também de ascendência Iñupiaq, é oriunda da Aldeia Nativa de Kotzebue. Como líder comunitária com uma vasta experiência no terreno, Corina detém um conhecimento especializado e único, particularmente no que toca ao estabelecimento de pontes entre os conhecimentos e valores tradicionais Indígenas e as práticas institucionais ocidentais – pontes que sejam capazes de melhorar o bem-estar das comunidades nativas, bem como a sua saúde e a sua soberania. O seu trabalho de sensibilização é guiado por um desejo de contribuir para restaurar as ligações inerentes dos Povos Indígenas às suas culturas, conhecimentos e comunidades. É de realçar o papel fundamental que Corina desempenhou no estabelecimento do sistema Sayaqagvik de cuidados para crianças, jovens e famílias no noroeste do Alasca. Foi também co-investigadora no Siamit Lab, uma parceria inovadora entre instituições académicas e tribais na área da saúde, da qual a Harvard Medical School faz parte. E ocupou o cargo de directora comunitária na Della Keats Fellowship, um programa de pós-graduação sediado no noroeste do Alasca, que apoia o desenvolvimento da próxima geração de líderes Indígenas na área da saúde. Recentemente, Corina fundou a Mumik Consulting, através da qual aconselha organizações que prestam serviços a comunidades Indígenas, para que estas possam melhorar as suas iniciativas.
Veja a versão em vídeo em baixo (legendas em português disponíveis), ou faça scroll para ouvir a versão em podcast (em inglês) e para ler a versão escrita (em português).
CONNECTING THE DOTS – PODCAST
Não vive sem os seus podcasts? Para não perder um episódio, subscreva o canal da Azimuth na Apple Podcasts ou no Spotify, aqui.
FRANCISCO SOARES (AZIMUTH WORLD FOUNDATION)
Cana, Corina, muito obrigado por estarem connosco hoje.
Cana, cresceu em Kotzebue e mudou-se para a Virgínia, para prosseguir o seu trabalho académico. Já a Corina mudou-se para Kotzebue aos 18 anos, para trabalhar diretamente com a comunidade local.
Podem falar-nos um pouco sobre os vossos dois percursos, e sobre como conduziram à vossa colaboração atual?
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Mudei-me para Kotzebue aos 18 anos, pouco depois de terminar o liceu. Comecei logo a trabalhar na organização de saúde da comunidade, como coordenadora de dados. E comecei aí um percurso de trabalho de 35 anos junto das nossas comunidades e dos nossos jovens. Em casa, coube-me criar crianças durante 20 anos. E por isso fui sobretudo voluntária em organizações de base, em diferentes projetos comunitários, e fui assumindo pequenas posições de liderança a curto prazo, um pouco por toda a comunidade.
Mas, há alguns anos, voltei a trabalhar na nossa organização de saúde, numa função diferente. E comecei a fazer parcerias académicas em diferentes áreas de investigação. E foi assim que fui estabelecendo contactos.
Por vezes, a Cana e eu estávamos no mesmo webinar, sem o saber, porque estávamos em diferentes partes do país. E acabámos por reparar que estávamos as duas lá. E um dia, ao jantar, falámos sobre isso: “Mas o que é que tu fazes? Isto é o que eu faço.” E foi espantoso ver como o nosso trabalho era tão semelhante e se sobrepunha de uma forma tão bonita. Foi por volta dessa altura que começámos a pensar em colaborar.
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Eu e a Corina somos irmãs. E acho que muitas famílias falam do seu trabalho quando se encontram, mas na nossa família há uma enorme proximidade, ligamo-nos sobretudo como pessoas e falamos em primeiro lugar sobre os nossos filhos, falamos sobre o que estamos a fazer nas nossas vidas pessoais. Então, quando nos vimos nestes webinars e descobrimos diferentes vertentes uma da outra, isso trouxe um novo lado muito bem-vindo e maravilhoso à nossa relação como irmãs.
Eu cresci entre a Califórnia e o Alasca. Andei na faculdade no início dos anos 90 e desisti quando comecei uma família. Voltei para casa, em Kotzebue, para ter o meu bebé. Depois voltei a estudar, quando o meu filho mais novo nasceu. E desde então, tenho vivido fora de Kotzebue, embora volte a casa frequentemente. Mas sempre senti, com o privilégio de ter tido esta educação, que tinha o dever de beneficiar realmente o nosso Povo.
Ao longo da minha educação recebi bolsas de estudo de organizações do nosso Povo, do IRA de Noorvik e também da Aqqaluk Trust, em Kotzebue. Sou muito grata por isso. E sempre quis retribuir. Foi assim que a nossa mãe e o nosso pai, Caleb, nos educaram. Para estarmos ao serviço do nosso Povo. Esse é um valor familiar que os nossos pais nos inculcaram. A nossa mãe, Gladys I’yiiqpak Pungowiyi, é da família Wells, de Noorvik, no Alasca. O nosso pai biológico chamava-se Karl Welm, e era oriundo da Alemanha. Mas também fomos criadas, e adoptadas, verdadeiramente, pelo nosso padrasto, Caleb Lumen Pungowiyi, que é Yupik, de Savoonga, no Alasca.
E eu queria mesmo retribuir. Quando encontrei a Corina durante estes webinars, percebemos que os nossos objectivos estavam alinhados. Perguntei-lhe se ela queria estabelecer uma parceria comigo, num trabalho de investigação que envolvesse a comunidade. E ela disse que não. Foram precisos dois anos para que ela finalmente aceitasse.
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
A Cana mencionou a palavra “investigação”, e eu dei meia volta e fui-me embora. A fatiga perante a investigação é real. Mas é bom que, como irmãs e como família, possamos confiar uma na outra. E quando começámos a falar mais seriamente, fui percebendo que podia mesmo resultar. Se há alguém que consiga que resulte, somos nós, porque existe uma enorme capacidade de comunicar, de ser vulnerável, de confiar. Além disso, foi muito bom perceber que estamos a continuar o legado do nosso pai, Caleb Pungowiyi, que esteve envolvido em muitos projetos de investigação a nível global e no Ártico, como ponto de ligação Indígena. E o legado da nossa mãe, também. Era uma grande defensora do nosso Povo, e preocupada com as suas necessidades, enquanto directora de operações da nossa empresa Nativa.

Créditos: Cana Uluak Itchuaqiyaq and Corina Qaaġraq Kramer
FRANCISCO SOARES
Muito obrigado por partilharem um pouco da vossa história familiar. E é interessante perceber como estão a colaborar, tendo chegado ao trabalho de investigação por duas vias diferentes.
Refletir sobre a posicionalidade é crucial para compreender como se envolvem com, e como discutem, as comunidades nas quais se centra o vosso trabalho. Podem explicar-nos melhor os vossos dois papéis:, uma académica que opera externamente à comunidade e uma líder comunitária que trabalha a partir de dentro? Como é que estes papéis moldam e definem a vossa abordagem?
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Uma vez que não vivo atualmente na nossa região, nem sequer no Alasca, e já desde há algum tempo, seria bastante audacioso da minha parte tentar falar em nome das nossas comunidades, tentar falar sobre a sua experiência da realidade e sobre os contextos comunitários, no meu trabalho.
Na verdade, o meu trabalho consiste em ouvir as comunidades e utilizar a minha capacidade, o público que tenho, a posição que ocupo, para amplificar e realçar as vozes das comunidades. E devido ao meu estatuto, enquanto “Dr. Itchuaqiyaq”, os académicos e outras pessoas podem facilmente olhar para mim como uma espécie de especialista sobre o nosso Povo, ou como uma porta-voz do nosso Povo, e eu tento rejeitar isso. Esforço-me muito por prestar atenção às questões de poder, de posicionalidade privilegiada, tanto no meu trabalho, como enquanto Iñupiaq, e por garantir que destaco e amplifico vozes da comunidade, como a da Corina.
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
A Cana tem sido sempre muito generosa, muitas vezes reportando-se a mim e a outras pessoas da comunidade, para se certificar, sem margem para dúvidas, que uma visão realista, oriunda da comunidade, é defendida e expressa. Isso não é algo que aconteça frequentemente.
E tem sido muito útil para nós, penso eu, sermos duas pessoas a colmatar esta lacuna. Porque basicamente estamos de mãos dadas, a fazer a ponte entre a comunidade e o mundo académico.
External Link
FRANCISCO SOARES
E falando dessa lacuna, sabemos que, historicamente, a relação das comunidades Indígenas com a academia tem sido marcada por casos de exploração do conhecimento Indígena, pela falta de inclusão das comunidades no trabalho de investigação e pela incapacidade de dar prioridade às necessidades da comunidade na definição dos objectivos da investigação.
Como podemos abordar esta história de forma respeitosa, evitando fazer do trauma entretenimento? Como pode ser assegurada uma representação autêntica das comunidades, centrada não apenas no passado, mas também no futuro?
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Na verdade, é muito fácil e simples fazê-lo. Basta ouvir as comunidades. Isso implica, infelizmente, uma mudança de paradigma. E é algo que provoca nas pessoas um grande desconforto. Especialmente entre académicos e instituições. Estão habituados a ocupar uma posição de controlo e poder, e assumem que o conhecimento e a inovação provêm das suas esferas, em vez de considerarem que os verdadeiros especialistas sobre a comunidade estão na própria comunidade. Que é na comunidade que estão os especialistas nos seus problemas e nas suas terras.
Esta mudança de paradigma de que falo, em que se passam a ouvir as comunidades, envolve dar-lhes poder de decisão no trabalho de investigação. Isso torna o trabalho sustentável, porque passa a servir as aspirações, iniciativas e necessidades da comunidade.
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Como disse há pouco, ouvi “investigação” e fugi na direção oposta. E isso deve-se em grande parte a esta rutura histórica que aconteceu com a estruturação ocidental dos negócios e da educação, com a chegada de todos estes modelos ocidentais, que basicamente subverteram as nossas prioridades, os nossos valores. Modelos que não nos aceitam, ou que não nos aceitaram, enquanto especialistas.
Quando nós sabíamos que o éramos. Sabíamos que éramos cientistas. Não se pode viver numa comunidade do Ártico sem se ser especialista em muitas, muitas coisas. O isolamento geográfico, as condições meteorológicas mais extremas, a luta pela sobrevivência, viver da terra, todas essas coisas requerem um conhecimento tão profundo como qualquer conceito ocidental que se aprenda num livro ou que se pratique num projeto de investigação. Nós sempre formulámos teorias, praticámo-las, fizemo-las funcionar e somos especialistas.
É difícil pensar naquilo a que chamo “inverter o guião” do mundo académico, ou mesmo do mundo empresarial ocidental. Mesmo na nossa comunidade, entre o nosso Povo. Por haver esta ideia de que não somos especialistas, ou de que não somos professores, ou de que não somos médicos ou cientistas.
Levei algum tempo a compreender – e ainda estamos a lidar com isso, porque é um processo difícil – que também se podem estabelecer relações boas e harmoniosas em que todos ganham, se as parcerias forem bem estabelecidas. Porque as comunidades Indígenas têm grandes necessidades. E nós não temos os meios para as satisfazer. Algumas delas exigem especialistas, porque são questões que advêm dos modelos ocidentais de que falávamos.
Mas e se estabelecêssemos parcerias? E se o fizéssemos, mas de forma a que o mundo académico e da investigação ouvisse as comunidades e lhes conferisse autoridade, liderança e lhes desse formação? Isso, sim, poderia ser uma relação bonita e harmoniosa, vantajosa para todos. E é precisamente nesse sentido que trabalhamos.
Crédito: Cana Uluak Itchuaqiyaq and Corina Qaaġraq Kramer
FRANCISCO SOARES
Sabemos que a investigação polar recebe generosos apoios financeiros, por exemplo. Mas o financiamento também pode tornar-se um espaço propício a práticas de assimilação. Qual é a vossa perspetiva sobre as atuais tendências de financiamento? E quais são as suas implicações para os académicos Indígenas e para as comunidades Indígenas?
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Estamos todos a assistir a mudanças sem precedentes e muito bem intencionadas no sector do financiamento governamental. E fico feliz ao ver isso. Em primeiro lugar, porque penso que outros financiadores, mesmo que sejam organizações governamentais mais pequenas, podem seguir o exemplo.
E estamos também a assistir a um ressurgimento Indígena sem precedentes. Os Povos Indígenas estão-se a erguer, dizendo: “Nós merecemos ter uma voz, nós somos detentores de informação, nós somos especialistas”. E este é, por isso, um momento extraordinário.
Sinceramente, como membro de uma comunidade Indígena, que não teve educação formal segundo o modelo ocidental, é muito bom ser reconhecida a este nível, como especialista na minha área, e ser convidada a participar. Ao mesmo tempo, há ainda muito trabalho a fazer para tornar o apoio financeiro às comunidades realisticamente acessível.
Estive recentemente no júri do programa “Navigating the New Arctic”, da NSF, para avaliar candidaturas. E foi extremamente difícil para mim. Nessa altura, eu tinha provavelmente três trabalhos a tempo inteiro, numa organização que não conseguia preencher os cargos necessários ao seu funcionamento. Além disso, eu tenho uma família e muitas outras responsabilidades. E, volto a repetir, nós vivemos da terra, da subsistência. E pôr o meu cérebro a avaliar, de forma científica, estas propostas foi extremamente difícil.
Algumas pessoas muito simpáticas, entre as quais o Liam, que trabalha na NSF, dispuseram-se a fazer comigo um balanço da minha experiência neste júri. E os meus comentários foram muito bem recebidos, felizmente. Disse-lhes que não é possível para uma comunidade candidatar-se a estes apoios e ser seleccionada. Que é realmente impossível. E foi bom ouvi-los dizer: “Talvez haja uma forma de promover novas oportunidades acessíveis para as comunidades”.
De qualquer forma, no que toca a financiadores privados, têm havido oportunidades mais acessíveis para as comunidades. Pelo que tenho visto, muitos procuram projectos que envolvem capital, e as necessidades sociais que nós temos requerem trabalhadores. Requerem contratar pessoas, em vez de comprar coisas. Esse é um dos aspetos que os financiadores privados deviam melhorar. Seria muito útil haver mais oportunidades de financiamento para este tipo de projectos, ligados à educação tradicional e cultural, e que não precisam necessariamente de muito capital.
Na minha opinião, também não tenho visto um esforço assim tão grande por parte dos financiadores privados no sentido de alterarem o seu funcionamento interno, de confrontarem os pressupostos ocidentais e coloniais nos quais se baseiam os modelos de financiamento.
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Mudar os procedimentos que a Corina mencionou – e que são práticas coloniais que não funcionam necessariamente, ou que não se enquadram bem, ou que não têm uma boa tradução para as realidades da comunidade e para os seus sistemas de valores – é necessário, e é muito mais fácil fazê-lo entre financiadores privados, do que no sector governamental.
Aos financiadores privados, as comunidades podem comunicar que, por exemplo, estão a ter problemas com os requisitos para a apresentação de relatórios. Ou que o pedido de objectivos “SMART” (específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais) não permite incluir aspetos da sua realidade, tais como os seus sistemas de valores. Ou também que são incompatíveis com a temporalidade, com a realidade e as restrições de tempo, tal como este é vivido nas comunidades Indígenas.
Mas o financiamento governamental, como dizia a Corina, está realmente a mudar. E concordo que essas mudanças são bem intencionadas. Na minha opinião, a National Science Foundation, e o gabinete de Polar Programs em particular, são os mais avançados, em termos de implementar aspetos relacionados com equidade. É o gabinete que está a guiar esta tendência. E estão a fazer um trabalho fantástico, indo ao encontro das prioridades das comunidades Indígenas.
Mas a forma como essas prioridades estão realmente a ser incorporadas nas políticas e no funcionamento do financiamento governamental, tal como dizia a Corina, acontece assim: querem ter mais participação Indígena no trabalho de investigação. Mas será que uma proposta organizacional totalmente Indígena pode ser competitiva no âmbito do financiamento governamental? Talvez não.
Isso implica uma mudança enorme, ao nível de quem avalia as propostas. E quem o faz é a academia, que tende a reificar-se a si própria como especialista. Trata-se, por isso, de um circuito fechado. E na National Science Foundation, e noutras organizações também, no âmbito governamental, ainda há muito trabalho a fazer para mudar essas políticas.
O que estão a tentar fazer é bem intencionado. Mas também pode ser feito de forma descuidada, quando envolve comunidades Indígenas. Isto porque utilizam, muitas vezes, uma abordagem pan-Indígena. E a forma como as comunidades Indígenas funcionam e trabalham nos Estados Unidos contíguos e no Alasca, por exemplo, são muito, muito diferentes. Mas as políticas governamentais que estão a ser implementadas literalmente neste momento, no seguimento de decretos presidenciais e de outras coisas do género, não têm realmente em conta essas nuances.

Créditos: Cana Uluak Itchuaqiyaq and Corina Qaaġraq Kramer
FRANCISCO SOARES
Queria falar um pouco sobre alguns dos vossos projectos em conjunto. Um deles é o “Rematriation Project – Restoring and Sharing Inuit Knowledges”.
Podem falar-nos deste projeto e da forma como procura revitalizar o conhecimento tradicional, evitando o extractivismo cultural? Acreditam que os novos dispositivos e plataformas de comunicação digital têm o potencial de promover a auto-determinação das comunidades Indígenas?
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
O Rematriation Project é uma colaboração entre a Mumik Consulting da Corina, e a Universidade de Virginia Tech. Eu lidero o projeto aqui, na Virginia Tech. Estamos a trabalhar em conjunto para criar um arquivo comunitário online, que sirva – que realmente sirva – o Povo do noroeste do Alasca.
Não só estamos a trabalhar para desenvolver estruturas que recebam um arquivo Inuit, concebido para utilizadores Inuit (e não para académicos), como estamos também a trabalhar para que a comunidade ganhe competências para arquivar digitalmente, permitindo que este arquivo comunitário seja replicável. E que seja, também, verdadeiramente um projeto da comunidade. Isto porque queremos garantir que o projeto é sustentável, e que a parceria académica pode acabar por desaparecer, com a comunidade a assumir a manutenção do projeto e o seu desenvolvimento, de acordo com as suas próprias necessidades. Queremos ser apenas uma ajuda no arranque.
Queremos desenvolver capacidades ao nível dos arquivos digitais, e queremos também despertar na comunidade o interesse pelo arquivo e pelo seu potencial de crescimento. Isso passa pela literacia de dados, que é fundamental para a proteção de dados das comunidades Indígenas, e para a sua soberania sobre eles. Esta forma de literacia pode ser tão simples como saber utilizar a informação contida no arquivo para compilar dados numa folha de cálculo, e depois utilizar essa folha de cálculo para ajudar a tomar decisões ou definir regras para os membros da comunidade. Mas também pode servir apenas para aprender coisas interessantes e despertar a curiosidade dos nossos jovens e da nossa comunidade, despertando o orgulho da comunidade no nosso património cultural, que vai ser preservado neste arquivo digital comunitário.
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Partimos propositadamente das necessidades das comunidades. O meu trabalho envolvia organizar este enorme arquivo rural, que compilava a nossa história oral. Estamos a falar 2300 ficheiros que continham a nossa história enquanto Povo, os nossos conhecimentos, informações geográficas, e conhecimentos sobre subsistência: Como fazer ferramentas. Como fazer um arranhador de gelo para caçar focas, que não leve a foca a sentir que se aproxima um urso polar, mas sim uma outra foca inofensiva.
Estão lá contidos estes conhecimentos, coisas que nem conseguimos imaginar. Conhecimentos que desconhecíamos, porque estavam descritos na língua Iñupiaq. O que os tornava inacessíveis às gerações mais novas. Nós não falamos fluentemente a nossa língua. E os membros mais velhos da comunidade, que ainda dominam a língua, já estão reformados, já não estão em condições de se sentarem a ajudar-nos com o trabalho de arquivo. E nós não temos os meios para contratar pessoas que possam levar isto a cabo.
Por isso, quando falei com a Cana, expliquei-lhe que o nosso Povo precisa muito deste arquivo. Precisamos de ganhar acesso à nossa cultura, à nossa língua, aos nossos costumes. Isto podia ajudar a resolver tantos problemas que estão a causar sofrimento na comunidade. E a Cana começou a pensar em como poderia ajudar, e a procurar ajuda junto das pessoas com quem trabalha todos os dias.
Conseguiu juntar uma equipa, e utilizar os seus conhecimentos e experiência na área da comunicação técnica e da retórica, para nos traduzir a linguagem técnica que nós não compreendemos. E foi assim que demos início ao Rematriation Project.
E que já se expandiu para um novo projeto, chamado Coding Project. Uma iniciativa que nos está a ajudar a codificar a língua Iñupiaq, equipando um computador para a traduzir por nós. Esse foi o toque mágico da “Dra. Itchuaqiyaq”, que através dos seus conhecimentos e contactos nos permitiu colaborar com linguistas computacionais, de renome internacional, e nos ajudou a pôr este trabalho em marcha.
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
É essa a chave. Ao ouvir as necessidades das comunidades, percebe-se em que ponto se encontra a comunidade. Os académicos continuam um pouco isolados. Tentamos promover um trabalho interdisciplinar, mas continua a haver um certo isolamento, e um trabalho assente em projetos singulares.
E é preciso pensar no problema expresso pela comunidade, traduzi-lo em projetos complementares, e depois compreender quais são as competências necessárias para pôr esses projetos em marcha. E perceber como se atraem especialistas, usando a persuasão, para conseguir que esses especialistas trabalhem basicamente de graça nestes projetos comunitários.
Eu não sou arquivista digital. Não sou linguista computacional. Faço comunicação técnica. Utilizo estratégias de comunicação para facilitar o trabalho dos membros da equipa, e para que esse trabalho conjunto responda às necessidades, objectivos e aspirações da comunidade.
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Quando é claro que a equidade, a justiça, o ressurgimento e a soberania são defendidos no projeto, e que a comunidade participa nisso, passa a haver um coração na base do projeto. Não se trata apenas de um projeto científico ou académico. Passa a ser algo que vai realmente ajudar a comunidade.
E, no início, fizemos questão de não nos candidatarmos a bolsas avultadas, porque queríamos fazer o projeto à nossa maneira. Queríamos manter esta pureza, estas condições que permitem que realmente funcione, sem termos de nos adaptar aos critérios de um concurso, sem nos preocuparmos com o cumprimento desses critérios. Porque, quando se faz isso, o projeto fica condicionado pela bolsa, em vez de se manter a pureza de tentar fazer apenas o que é preciso para ajudar as pessoas.

Créditos: Cana Uluak Itchuaqiyaq and Corina Qaaġraq Kramer
FRANCISCO SOARES
O vosso trabalho defende veementemente que as comunidades Indígenas devem ser ouvidas em toda a investigação desenvolvida nos seus territórios Indígenas. E defendem que o trabalho de investigação tem de ser desenhado de acordo com as necessidades, valores e sistemas de conhecimento das comunidades.
Ainda existem muitas lacunas entre as intenções de realizar investigação equitativa e a forma como os projetos de investigação estão de facto a ser concebidos e implementados no terreno?
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Claro que sim. Havia camadas e camadas de problemas embrenhados, criados pelo colonialismo ao longo do último século. Para muitos povos e comunidades Indígenas, há tanto ainda por resolver. E sinto que só agora nos estamos a aperceber de que isto tem de acontecer.
E como um membro da comunidade para quem isto se tornou claro, eu consigo ver claramente o racismo estrutural e a opressão psicológica, todas estas coisas. E é muito difícil para mim, como membro da comunidade, trazer estes tópicos para a discussão, e explorá-los ao ponto das nossas próprias organizações, dos membros da nossa comunidade, se apercebem disso, de o admitirem, de assumirem responsabilidades, tudo isso.
Portanto, mesmo a nível comunitário, há muito trabalho por fazer.
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Eu acabei por escrever um guia para um trabalho de investigação equitativo no Ártico. É apenas um guia de 12 páginas – que quis que fosse peer-reviewed e avaliado por membros da comunidade Indígena, só para ter a certeza de que o que eu estava a dizer não era descabido – que define 10 estratégias para um trabalho de investigação equitativo no Ártico.
E não sabia bem no que ia dar esta iniciativa, mas acabou por levar à criação de uma newsletter, para a qual a Corina passou também a contribuir. Começámos por volta de Março de 2023. E desde então, continuamos a desenvolver as nossas parcerias de investigação com a comunidade, e continuamos a nossa própria parceria que une a universidade e a comunidade, e temos lidado com todos os aspetos deste processo, temos feito candidaturas para bolsas da NSF, temos procurado bolsas filantrópicas, temos feito todas estas coisas para suportar os projetos que temos vindo a discutir hoje. E temos sentido as dores de crescimento envolvidas em todos estes passos. Temos sentido na pele o que isso envolve.
E a Corina mencionou como a nossa relação nos ajuda a encarar este trabalho, porque, aconteça o que acontecer, eu e a Corina amamo-nos. Somos irmãs. A Corina costumava carregar-me às costas, quando eu era bebé. Sabemos que partilhamos esse passado comum. E temos tido discussões e discórdias. Este trabalho já nos pôs em confronto e tivemos de nos esforçar para ultrapassar isso. Porque sabíamos que podíamos confiar uma na outra, mesmo quando estivávamos zangadas, mesmo quando não estávamos de acordo. Nós podemos apoiar-nos na nossa relação para explorar o que realmente está em cima da mesa, para sermos vulneráveis nas nossas discussões. Podemos até chorar em frente uma da outra, por causa de desafios profissionais, e perceber em conjunto como estes nos estão a afetar. E depois, ao passarmos por esses percalços, somos capazes de nos distanciar, e de ver como eles são, na verdade, sintomas de algo que vai para além da nossa interação. Somos capazes de pensar como, na verdade, derivam da forma como as instituições e as comunidades interagem.
E foi assim, ao atravessar este árduo período de trabalho em conjunto, ao escutarmos profundamente cada uma das nossas posições, e ao combinarmos toda a nossa experiência, que acabámos por desenvolver um curso que acabou de ser lançado. Chama-se Curso de Envolvimento Eficaz da Comunidade e de Pesquisa Equitativa no Ártico.
Recebemos imensos e-mails e perguntas detalhadas sobre o que está envolvido neste trabalho. E por isso, tem sido divertido pensar este tema. Queremos conseguir mostrar como se começa este tipo trabalho, e como se pode depositar confiança. Mesmo que se trate de um académico experiente. Ou de um estudante de pós-graduação que está a tentar começar da melhor forma. Ou de alguém que esteja a trabalhar dentro das próprias estruturas de poder no meio académico, alguém com menos poder nessa estrutura, mas que pode, ainda assim, usar o seu poder institucional e a sua posição para trabalhar no sentido da equidade na investigação, no sentido de envolver as comunidades Indígenas de forma equitativa, especialmente no Ártico.
FRANCISCO SOARES
Muitos parabéns pelo início do curso!
Falaram sobre a confiança que está na base da vossa relação, e de como isso vos permitiu olhar mais profundamente para todas estas questões.
A confiança é precisamente o que tem desde há muito tempo falhado na relação entre a academia e as comunidades Indígenas. Podem falar-nos sobre como o respeito tem de estar na base de qualquer compreensão verdadeira das necessidades de uma comunidade? E sobre o que está envolvido em tentar recuperar a confiança das comunidades Indígenas no Alasca, tanto em contextos de investigação, como institucionais?
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
Eu colaboro com a Harvard Medical na formação de médicos. E uma das minhas primeiras abordagens é: “Quantas aulas tiveste, quantos livros leste, quanto tiveste de aprender sobre medicina para chegares onde estás hoje? Então, percebe que precisas de ler e de aprender sobre nós, enquanto Povo”.
Eu julgo que é fundamental que se procure ver e compreender as pessoas com quem se está a trabalhar. Os seus sistemas de valores, a dinâmica local na aldeia, a forma como as coisas funcionam no terreno. Compreender que o verão e o outono não são uma boa altura para vir colaborar, porque estamos a subsistir. Nós vamos ter de sobreviver durante o resto do ano. Por isso, não nos venham bater à porta nessa altura, a não ser que estejam dispostos a pegar num ulu e a ajudar-nos a amanhar o peixe. E isso leva-nos a outro nível de relacionamento.
Nós somos pessoas relacionais. Os Povos Indígenas são relacionais e comunitários. Ajudamo-nos uns aos outros. Não somos como essas famílias que vivem cingidas à suas cercas brancas, que entram para a garagem sem acenar ao vizinho. Conhecemo-nos uns aos outros, ajudamo-nos uns aos outros, vivemos juntos. E isso vai incluir qualquer pessoa que venha de fora, que venha viver connosco, independentemente do propósito da sua visita. Somos pessoas relacionais e não podemos manter estas separações. Não quero saber se és médico. Quero saber de onde és. Quero saber se tens irmãos, ou se tens filhos, ou como se chama o teu cão, ou que tipo de pesca gostas de fazer. Isso é importante para nós antes de qualquer outra coisa.
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
As relações são muito importantes. E a única forma de construir essas relações é reconhecer que se está a entrar numa comunidade enquanto pessoa, tal como referiu a Corina. E reconhecer também que é enquanto pessoas que estamos a interagir com a comunidade. Não podemos chegar com o nosso trabalho, com o nosso CV, e esperar que isso envolva a comunidade.
E desenvolver estas relações é fulcral para que se consiga realmente ouvir as comunidades. Porque quando nos relacionamos enquanto pessoas, depositamos confiança na comunidade, à medida que ouvimos. E a comunidade deposita confiança em nós, ao ser ouvida. Ou seja, trata-se de uma confiança mútua.
Nas duas equipas de investigação com as quais trabalho, e que são realmente interdisciplinares e compostas por académicos em início de carreira, a maioria de nós ainda não tem um contrato fixo enquanto investigador. Estamos, por isso, numa posição em que temos de provar ao nosso empregador que nos deve continuar a contratar, o que envolve todo o tipo de requisitos. Ou seja, estes investigadores têm de confiar na comunidade, acreditando que o projeto que aí desenvolvem lhes vai permitir manter e solidificar a sua carreira. Por mais que a comunidade diga: “Este projeto vai ajudar-nos a manter e a desenvolver as nossas aspirações e necessidades”. E para que isso realmente aconteça, há uma espécie de esticar, em que todos trabalham e se esforçam para abarcar o conjunto dos objectivos, para abarcar o conjunto das competências. Todos têm de se constituir como parte de uma equipa.
E foi por isso que tive de olhar para as minhas próprias competências com uma mente aberta, pensando na melhor forma de as conjugar com os objectivos, aspirações e necessidades das comunidades. E isso exige trabalhar realmente a partir da humildade. Não é fácil, mas é absolutamente necessário.

Créditos: Cana Uluak Itchuaqiyaq and Corina Qaaġraq Kramer
FRANCISCO SOARES
Hoje em dia, cada vez mais pessoas falam do conhecimento Indígena. Mas, ao mesmo tempo, continua a haver uma baixa representatividade de estudantes Indígenas. Cana, pode explicar-nos de que forma o seu trabalho tenta colmatar esta lacuna?
E tenho uma questão paralela para a Corina: Partindo do seu envolvimento com programas de liderança juvenil, pode falar-nos mais sobre a centralidade de elevar pessoas de volta à liderança?
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Completei o meu doutoramento e decidi que não queria ensinar. Porque há neste meio muitas coisas que considero tóxicas. E precisamente entre as coisas que eu, enquanto estudante, considerava tóxicas, estavam as barreiras de acesso que os estudantes Inuit, e outros estudantes Indígenas, e estudantes de comunidades marginalizadas e com pouca representatividade, encontram no meio académico.
Eu própria enfrentei essas barreiras e pensei: “Vou-me embora. Obrigada pelo doutoramento, espero que me paguem melhor por causa dele, mas vou-me embora”. Eu tinha recebido ofertas de emprego por parte destas universidades, e a minha mãe disse-me: “Olha para os recursos a que tens acesso. Tens basicamente um contrato de seis anos, e um percurso para te tornares professora titular. E que tal se encarasses o mundo académico como um desafio, através do qual canalizasses estes recursos do mundo académico para o nosso Povo?”. E esse objectivo pareceu-me importante.
E, afinal, adoro ensinar. E, afinal, adoro a investigação. Mas a realidade é que gosto ainda mais do meu Povo. E o trabalho que escolho fazer enquanto académica passa por encontrar formas de satisfazer as necessidades do nosso Povo, utilizando os recursos da universidade, mas também compreendendo como funciona o meio académico. E procuro trabalhar na minha esfera de influência para mudar o meu departamento, para mudar os programas de bolsas em que estou envolvida. Para abrir caminhos nesta universidade, caso as pessoas a escolham. Para lhes dar o apoio de que necessitam. Para procurar formas de tornar menos duro este lugar.
Trabalho arduamente para que as pessoas da minha comunidade se possam envolver no trabalho de investigação, ou para que simplesmente se possam envolver no meio académico. E para o desmistificar, simplesmente. E também para traçar um caminho que os estudantes Inuit possam seguir. Porque eu própria tive de fazer esse caminho e sei o quão difícil foi.
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
E eu, pessoalmente, não quero tirar um curso. Nunca quis.
Lembro-me de ter tido uma conversa com a nossa equipa na organização de saúde da comunidade. Estávamos a falar de elevar as vozes da população local e de conquistar um lugar na tomada de decisões. E uma das psicólogas dizia: “Bem, só precisamos de os encorajar a ir à escola e a receber formação, e depois terão um lugar à mesa e poderão dar a sua opinião”. E eu disse: “Não”. E esta era uma pessoa absolutamente espantosa, preocupada com questões de equidade, tudo isso.
Mas era nisso que realmente se acreditava, porque foi isso que nos ensinaram. Sempre nos disseram na aldeia: “Saiam, estudem, voltem e ajudem o vosso Povo”. E eu, pessoalmente, nunca o desejei. E recuso-me a ser menosprezada por causa disso. Eu tenho educação. Sou autodidata e tenho formação comunitária.
Eu recebi o meu diploma, mas muitas pessoas da comunidade só frequentaram o liceu. Muitos foram enviados para colégios internos e não prosseguiram os estudos depois disso. Mas são peritos na construção de trenós, ou têm conhecimentos sobre como viver no campo, e qual o tempo que vai fazer pela posição de certa nuvem no céu, e porque é que não nos devemos aproximar de uma nuvem amarela no céu, uma vez que sinaliza mar aberto.
Por isso, quando ajudo a desenvolver programas para jovens e a educar jovens lideranças, quero sempre certificar-me de que o conhecimento do nosso Povo é considerado uma forma de educação. Temos o nosso próprio sistema educativo na aldeia. Sempre tivemos. Mas é mais um modelo de aprendizagem em graus, no qual nos vamos formando. Formamo-nos para poder amanhar o peixe, quando chegamos a certa idade. E eu tenho estado estado lá, quando um miúdo de 11 anos diz: “Não posso acreditar. Este ano é o meu ano”.
E portanto, há este nível de sabedoria que se desenrola num sistema totalmente diferente, de uma forma totalmente diferente, e que é equivalente a um sistema educativo ocidental. Isso tem de ser reconhecido em todos os aspetos.
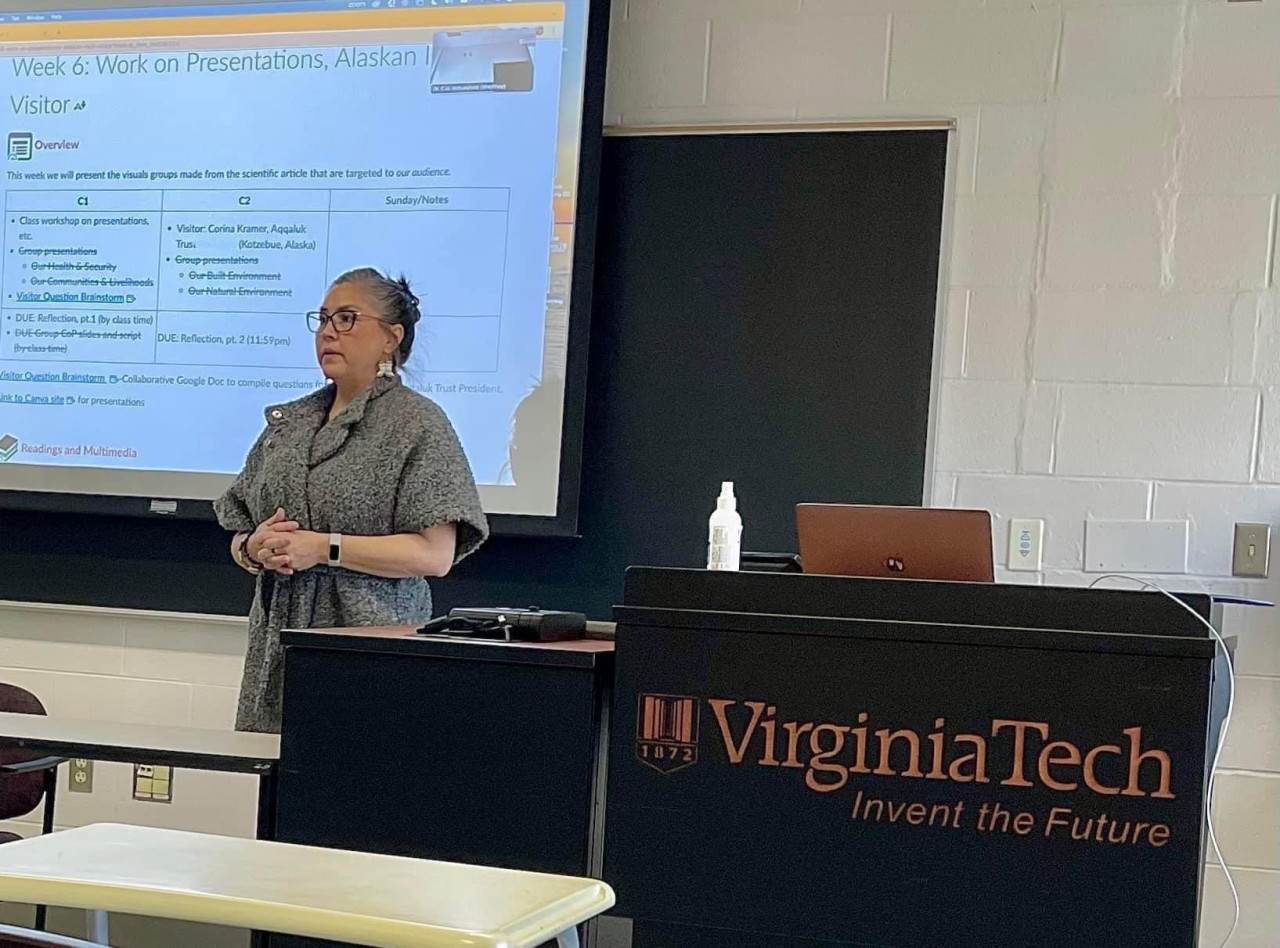
Créditos: Cana Uluak Itchuaqiyaq and Corina Qaaġraq Kramer
FRANCISCO SOARES
Como gostariam de ver o vosso trabalho a ser implementado nos próximos anos? E, nesse sentido, o que é que neste momento alimenta as vossas esperanças?
CORINA QAAĠRAQ KRAMER
O Liam, da NSF, que é uma pessoa maravilhosa, e que tem sido um verdadeiro defensor das iniciativas e da investigação Indígenas, fez-me uma pergunta semelhante, na nossa primeira reunião. Perguntou-me: “O que esperas ver, ou o que esperas de tudo isto?” E eu penso que podemos contribuir para a mudança dos sistemas que afectam o nosso Povo, globalmente. Podemos fazer parte dessa mudança global. E, por alguma razão, conseguimos encontrar esta espécie de magia, que realmente funciona aí, na criação de pontes entre comunidades, quer sejam comunidades Indígenas ou comunidades académicas.
E nós temos essa capacidade. E temos vindo a observar o alcance deste trabalho a nível global, e o quão necessário é. E há entre nós, Povos Indígenas, muitos que estão a fazer exatamente o mesmo trabalho. Por isso, só quero fazer parte desta comunidade e contribuir para uma mudança que chegue até aos nossos lares, onde persistem muitas necessidades a que a investigação e o meio académico continuam a não dar resposta.
CANA ULUAK ITCHUAQIYAQ
Quero o mesmo para mim, no trabalho que faço na vertente académica, e na forma como traduzo esta experiência em publicações, que são depois utilizadas como ferramentas para outras pessoas justificarem as mudanças que querem implementar no seu próprio trabalho.
Sucesso, para mim, seria poder reformar-me deste trabalho, não ter de insistir, dizendo: “Podemos criar alguma equidade, por favor?”. O nosso pai estava literalmente a fazer este trabalho no início dos anos 90. Já há muito tempo que exigimos a mesma coisa.
Muitas das recomendações que eu e a Corina partilhamos são, para nós, senso comum. Por isso, eu adoraria que as pessoas se empenhassem em fazer este trabalho. E que avaliassem as suas motivações. E que percebessem que partilhar o poder é, na verdade, a chave para a inovação no trabalho de investigação sobre o Ártico. Partilhar o poder e ouvir que “a nuvem amarela no céu assinala mar aberto”, e reconhecer nisso uma observação científica, uma demonstração de conhecimentos científicos.
E quando alguém diz: “Estou interessado em XYZ.” E a comunidade diz: “Sim, já sabemos ao que isso se refere. Provavelmente tem que ver com isto.” Que esse investigador ouça a comunidade. Porque o que a comunidade vai dizer no seguimento disso é: “O que realmente nos interessa é isto. Porque há algo que se está a aproximar. Está cada vez mais perto e nós ainda não percebemos o que aí vem realmente”. Porque em Kotzebue, na zona noroeste do Ártico e ao longo desta costa do Alasca, as comunidades na linha da frente estão a enfrentar as alterações climáticas neste preciso momento. A curiosidade académica não está a salvar casas, não está a salvar vidas, nem a salvar a ligação cultural e a ligação da comunidade à terra. Não está a fazer esse trabalho.
Por isso, o meu objetivo é que as pessoas simplesmente ouçam. Que façam o trabalho. Que desobstruam o seu próprio caminho, verdadeiramente, e que sigam em direção à inovação e ao trabalho com as comunidades. Que desobstruam o seu próprio caminho, para que eu me possa reformar e me possa dedicar à construção, que é realmente o que eu gosto de fazer. Construir pequenas casas e móveis, e trabalhar na minha oficina, e usar um avental, despreocupada em casa, sem ter de ser a “Dra. Tal”. Por favor, isso deixar-me-ia feliz.
External Link